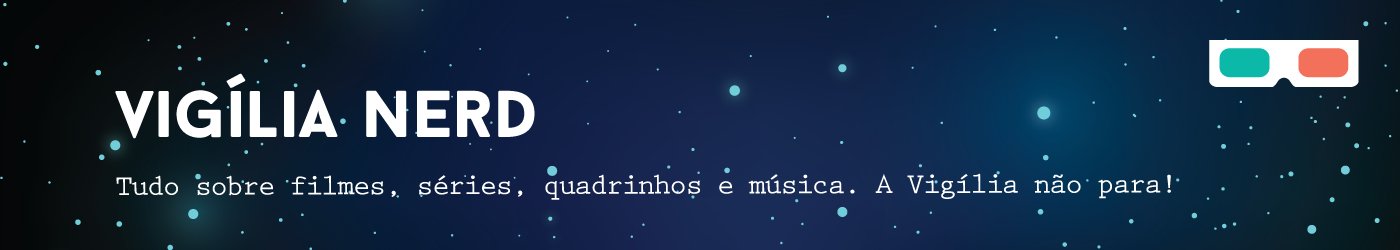Lucky | Crítica
Lucky é tudo. Lucky é nada. Vai depender de você. Mas acima de tudo, Lucky é um dos filmes mais interessantes de 2017. Circulando por diversos festivais, o filme vem ganhando território, e já está sendo lembrado em diversas premiações. É uma obra que vem para nos fazer pensar sobre a vida, e mais precisamente o fim dela. De uma forma sincera, sem rodeios e com uma crueza de detalhes e situações ambíguas, que nos fazem sorrir, mas ao mesmo tempo são bem sérias. E o melhor, tudo está nas costas do ator Harry Dean Stanton, de 91 anos. Mas não estranhe, no filme ele interpreta um personagem mais novo. Ele é Lucky, e tem só 90 anos. Mesmo sem saber se ele estará nas indicações para o Oscar de Melhor Ator em 2018, já deixo o meu registro: entreguem logo o careca dourado para ele.
O diretor é John Carroll Lynch, e esta é sua estreia na principal cadeira atrás das câmeras. Como ator ele tem participação como coadjuvante em vários filmes que você já viu, mas o perfil low-profile não o coloca no hall de rostinhos conhecidos. O elenco ainda conta com clássicos atores que preenchem o ciclo social de Lucky, um senhor de idade solitário, mas não sozinho. Entre eles David Lynch (mas não é parente do diretor), Tom Skerrit (Alien – o oitavo passageiro), James Darren (da clássica série O Túnel do Tempo) e Beth Grant.
De forma direta e rápida (o filme tem 1h28), ou melhor, realista, somos apresentados a Lucky e suas rotinas. Ele mora sozinho em uma cidade próxima do deserto, que provavelmente faz fronteira com o México. Ele, como qualquer pessoa no alto de seus 90 anos, é metódico. Faz sempre seus exercício matinais, fuma, toma café, fuma, coloca suas botas e roupas dignas de um cowboy urbano, fuma, vai até o ‘dinner’ mais próximo a pé, fuma, e faz suas palavras cruzadas. Na volta, passa no mercado para comprar cigarros e segue para assistir seus programas de TV favoritos. À noite, ele encontra os (literalmente) velhos conhecidos, onde trocam ideias e escutam, como já escutaram tantas outras vezes, as histórias de vida de cada um deles. E por mostrar tudo isso, de forma simples e bonita, somos jogados a uma trama que não vai ter grandes conflitos. Nada mirabolante. É a vida típica de um senhor de idade e toda a “emoção” que ela pode ter.
Lucky, ao mesmo tempo que é rabugento, é o personagem que nos cativa. E sua forma de pensar nos faz pensar também. Principalmente sobre o que é a nossa realidade, como cada um enxerga um tipo de realidade, como a vida é vazia (somos nós que a preenchemos), e como tudo um dia, vai ser um grande vazio. Ao mesmo tempo em que tudo acontece e nos conduz a esse tipo de pensamento, somos brindados com ótimos diálogos, trágicos, cômicos, e tragicômicos. Não necessariamente nessa mesma ordem. Lucky na verdade, no auge da velhice, vai descobrir que tudo tem um limite. Uma iminência. E vai nos lembrar que nossa vida também tem.
Lucky é tudo, e Lucky é nada. É divertido, inteligente, direto. Nos faz pensar e nos mostra que um dia a vida acaba. Inclusive a do nosso personagem principal, que curiosamente descobriu que temos um início, um meio e um fim. Explico: Harry Dean Staton, o nosso Lucky, morreu de causas naturais antes da estreia de sua última obra. Na máxima de que a vida imita a arte. Mesmo assim, entreguem um Oscar para esse homem.